Os chamados «direitos trans» têm sido tratados nas redes sociais e nos media como se estivessem na continuidade direta das reivindicações LGB das últimas cinco décadas. Todavia, colocam problemas políticos muito diferentes, nomeadamente:
- Legitimam intervenções médicas irreversíveis em menores de idade;
- Geram conflitos de direitos com outros grupos (concretamente, as mulheres);
- Exigem da sociedade muito mais do que a mera indiferença.
1. Existem crianças e adolescentes que reportam algum desconforto com o carácter sexual do seu corpo. Numa abordagem mais médica, trata-se de uma «disforia de género» que deve ser acompanhada e tratada; numa abordagem politizada, uma «identidade de género» que deve ser celebrada e afirmada (primeiro com bloqueadores de puberdade, depois com hormonas do sexo contrário, e finalmente com operações cirúrgicas). De passagem: há quem não tenha aprendido a importante lição que politizar a biologia e a medicina nunca dá bons resultados. Mas adiante: pessoas que ainda nem cidadãos plenos são (e não podem casar, trabalhar, ser presos, etc) não têm maturidade para tomar decisões irreversíveis sobre a sua saúde. Não têm, e fora da bolha trans não se encontra quem generalize esta presunção de maturidade precoce para outras áreas da vida.
Como se sabe, a puberdade é quase sempre traumática (ainda mais para as raparigas do que para os rapazes): inclui muito desconforto físico e psicológico com mudanças anatómicas, fisiológicas e sociais. Mas a puberdade não é uma doença e não é de certeza prudente «tratar» as angústias da adolescência deixando pessoas mutiladas ou inférteis para o resto da vida (notar que existem testemunhos trágicos, embora estatisticamente pouco significativos, de pessoas arrependidas de «transições de género» que as prejudicaram fisicamente sem melhorar a sua saúde mental). E não deixa de ser contraditório e chocante que uma sociedade que tenta eliminar (e muito bem) a mutilação genital de menores em nome da cultura ou da religião assista sem reação à defesa de procedimentos médicos irreversíveis (até cirúrgicos) em menores em nome da «identidade de género».
Politicamente, defendo que o direito dos adultos a disporem de si próprios tenha poucos limites. Quer a morte assistida quer a mudança anatómica de género me parecem dentro desses limites em adultos esclarecidos das consequências e devidamente acompanhados (mas, mesmo nesses casos, não é assunto para celebrações ou likes de redes sociais). Inaceitável é efetuar procedimentos irreversíveis (hormonais ou cirúrgicos) em menores de idade.
2. Existem óbvios conflitos de direitos entre as reivindicações trans e as feministas. Considerem-se dois casos: os espaços segregados e os desportos.
Nos espaços segregados, é óbvio que mulheres trans correm um grande risco de violência em prisões masculinas (por exemplo); mas também deveria ser óbvio que mulheres trans não operadas colocam em risco mulheres não trans em prisões femininas. Este conflito de direitos existe também (com menor gravidade) em enfermarias hospitalares ou vestiários. E é improvável que exista uma solução que acomode perfeitamente os direitos de ambos os grupos. Teremos que viver com uma situação confusa e conflituosa? Já não será mau se se reconhecer que os direitos de cada um acabam onde começam os dos outros. O que no caso do movimento trans será difícil: é um típico movimento identitário, que não considera que as reivindicações do seu grupo possam ser limitadas por qualquer outro grupo.
Nos desportos, a existência de categorias segregadas por sexo garante que as mulheres ganhem medalhas e, no caso dos desportos de contacto, que os pratiquem em segurança. O movimento trans reivindica que qualquer pessoa que se auto-identifique como mulher (ou que esteja legalmente reconhecida como mulher) possa concorrer nas categorias femininas. Ora, é simplesmente injusto: atravessar a puberdade com biologia masculina e a correspondente dose maciça de testosterona tem consequências na força muscular, na resistência, e na solidez óssea (e na altura). Consequentemente, há vantagem masculina na quase totalidade das modalidades (com exceções como a ultra-maratona e o tiro ao arco).
3. Finalmente, e deixando de lado as reivindicações dos dois pontos anteriores, o movimento «trans» não se satisfaz com o apoio dos ativistas e a indiferença da maioria. Exige de toda a sociedade a adesão a um conjunto de conceitos pseudo-científicos, a formas de tratamento pouco convencionais, no limite a uma linguagem (dita «inclusiva»).
Compreensível, por outro lado, é que as pessoas adultas que concretizam uma transição de género, mesmo que apenas social, queiram ser tratadas por outrem pelo género com que se identificam. É o menor dos problemas e não deve ser razão para conflitos. Já redefinir os conceitos de «homem» e «mulher» de forma a significarem «aquilo que as pessoas dizem ser» dificilmente será completamente exequível. Há contextos em que será sempre necessário distinguir sexo feminino e sexo masculino. Por exemplo, o aborto é um direito das pessoas do sexo feminino (e não de «todos os géneros»); e o cancro da próstata é um problema das pessoas do sexo masculino (e não de «todos os géneros»). Perde-se bastante em contextos médicos e científicos (e políticos?) se se fizer a categoria «género» predominar sobre o «sexo».
Já agora: é falso que em Portugal exista «género atribuído à nascença». O que acontece, como todos sabemos, é que a partir da observação genital do nascituro se define a categoria legal «sexo (M/F)». Não resulta daí nenhuma classificação na categorial social «género».
Finalmente, se a minoria de ativistas acredita que vai impor toda uma nova linguagem à totalidade da população, vive numa ilusão (e querer que todos saibamos todas as definições de categorias de género e de orientação sexual existentes começa a ser, na fase atual de fúria classificativa com multiplicação infindável de caixinhas, uma exigência quase sádica). Mais: a maioria de indiferentes, se forçada a mudar - por imposição ideológica - de linguagem e de conceitos básicos como homem e mulher, pode chatear-se. É que a maioria gostaria presumivelmente de continuar indiferente a estas questões.
Aconteça o que acontecer, já sabemos que quando as tropas de Putin chegarem à fronteira do Caia não estaremos a discutir quantos anjos cabem na ponta de um alfinete, mas sim em quantos géneros se divide a espécie de primatas a que pertencemos. E se houver mobilização geral, os homens terão uma escapatória: declararem-se mulheres ou não binários.
Nota final: ao contrário do que é demasiadas vezes argumentado, a existência de pessoas com síndromas de insensibilidade a androgénios, desordens de desenvolvimento sexual, síndroma de Klinefelter, síndroma de Turner, etc («intersexo») não justifica, «valida» ou muito menos explica a existência de pessoas com disforia de género («trans»). Este artigo deixou portanto deliberadamente de fora esse grupo de pessoas. Num certo sentido, as duas categorias (ambas bem mais políticas que científicas, registe-se) são até opostas: «intersexo» são pessoas que nascem com diferenças anatómicas, fisiológicas ou cromossómicas face à maioria; «trans» são pessoas que estando anatómica, fisiológica e cromossicamente dentro da norma manifestam vontade de não estar (e devem poder não estar, se forem maiores e ficarem realmente melhor assim).





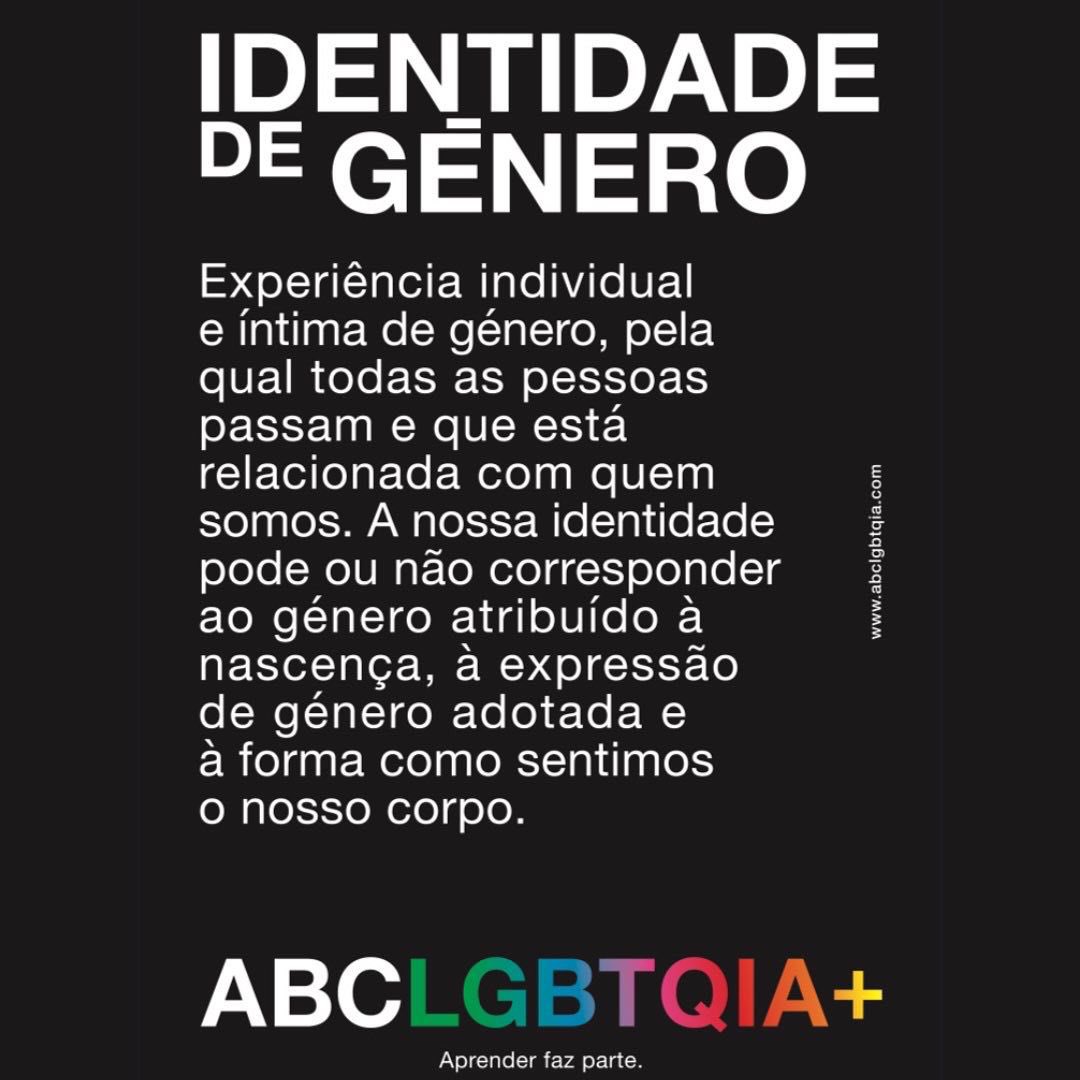



.jpg)











Sem comentários :
Enviar um comentário